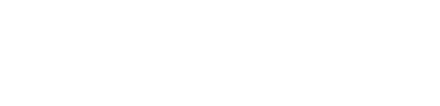Quando Tina Fey brincou nos Globo de Ouro sobre a duração da premiação ser para Scorsese o que fora o “1º ato” de O Lobo de Wall Street entendi apenas como uma piada pronta para preencher o roteiro de apresentação da cerimônia, mas após assisti-lo e ler diversos comentários da crítica americana sobre Scorsese estar completamente despirocado na direção do filme, além da repercussão (negativa) que o mesmo está tendo dentro e fora dos Estados Unidos, acredito que o comentário de Tina tenha um efeito para além de um alívio cômico. Não que a imprensa especializada esteja errada, porque de fato O Lobo é uma versão do Scorsese que parecia estar adormecida há muito tempo (e pra mim é o filme que ele queria ter feito lá em Gangues de Nova York e Os Infiltrados), mas é completamente equivocado dizer que o diretor está fora de controle, pois mesmo que o espetáculo orquestrado por ele aqui seja deliberadamente histérico e exacerbado, Scorsese nunca esteve tão consciente de sua transgressão quanto cineasta antes (e não tô falando da saturação de drogas e sexo!).

Ano em que o paralelo estético e crítico dos diretores americanos foi uma armadilha –destaque especial para Sofia Coppola com The Bling Ring e Michael Bay com No Pain, No Gain, dois fetiches estilizados que não deram muito certo- na exploração das (multi)facetas d’América autodestrutiva e escrava das próprias ambições, 2013 realmente foi um ano importante para o Cinema. Poucos realizadores, porém, foram tão além da exibição estética (ridícula) como Scorsese em O Lobo de Wall Street. Uma versão megalomaníaca e expandida de Spring Breakers, na qual o mito da biografia homônima de Jordan Belford serve apenas de pretexto para a desconstrução duma audiência à merce do horror banal e de um humor (negro) que se faz tão somente pelo choque do que para ser expressamente divertido, assim como Harmony Korine, Scorsese tem pura consciência das sensações que seu filme causará no espectador e, para além dos sentidos metafísicos e psicológicos compilados a extensão do argumento, o assombro de personagens como o gangster Alien (James Franco, estupendo) de Korine, surtindo efeito alienado numa juventude inconseqüente e incrédula, o milionário Jordan Belford, carismático e gente fina, construído em O Lobo como um grande labialista, serve apenas de fachada para emular os sentidos mais grotescos e escravizados do homem americano diante de sua crença devotada completamente no espetáculo sensacionalista. É como se Scorsese, numa versão (ainda mais) politicamente incorreta do Kanye West de Yeezus, materializasse no filme a exaltação de seu próprio Cinema para explorar a decadência dos valores morais, banalizando em contradição tudo aquilo que faz da ficção um elo tênue entre o surreal e o real trágico.
Quase um estudo cínico devotado completamente de seu próprio ego cinéfilo, o que difere O Lobo de Wall Street de um De Palma em puro deslumbre em Scarface é justamente o encanto que Scorsese tem pela veia pulp de personagens como Belford (interpretação imaculada de um Leonardo DiCaprio em perfeita sintonia com seu mentor), traduzido no filme pela sublime construção narrativa documental, no melhor suspense kitsch, legitimando não apenas o que ele vinha elucidando desde Táxi Driver, no amor e ódio por Nova York, mas também tentando encontrar uma forma de compreender o que leva o Cinema a ser essa válvula de escape tão nua e crua que nem mesmo o mais sofisticado dos diretores contemporâneos consegue controlar. Talvez por tamanha incompreensão dos valores capitais e interpessoais, existe um sentimento muito verdadeiro sendo eternizado em cada plano das quase três horas de duração de O Lobo, e mesmo num filme indulgente como esse, Scorsese, assim como a audiência que espera ansiosamente a palestra motivacional de Jordan ao final do filme, amplia esse mecanismo fetichizado esvaziando o que nem o mais afiado panorama crítico ou os melhores arquétipos de personagens possam subverter às custas da confluência da imagem cinematográfica.