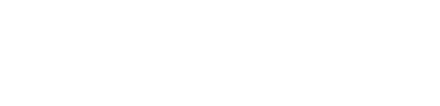A partir do momento em que o cristianismo passou a regrar no Ocidente, foram dois milênios (e contando…) em que a humanidade se curvou diante da palavra da Bíblia em busca da remissão dos pecados, afinal, cada homem e mulher são frutos da tentação da carne, como dito pela doutrina da Igreja. Nesse longo período de penitência, os cristãos procuraram combater o paganismo e suas vertentes a todo o custo em nome da Fé, ao passo em que praticam um círculo vicioso de pecados. Afinal, qual é o Mal dentro de uma família, o pavor ao sobrenatural ou o próprio fervor religioso que tanto limita a visão das coisas?

O ano é 1630 e a Nova Inglaterra passa por seu período de colonização, recebendo diversos imigrantes ingleses puritanos que ali esperam prosperar. Expulsos da comunidade justamente por seu “excesso” de religiosidade, William (Ralph Ineson) e Katherine (Kate Dickie) partem junto com seus filhos a procura de um lugar abençoado para vingarem neste novo mundo: na orla de uma floresta, um contato com a natureza provida por Deus. Com a nova casa erguida e sem nada a faltar para esta família tão crente, à Thomasin (Anya Taylor-Joy), a filha mais velha na flor da puberdade, cabe os afazeres domésticos além de cuidar do bebê Samuel, enquanto seu irmão Caleb (Harvey Scrimshaw) ajuda o pai na plantação e na caça. Na inocência de uma brincadeira perto das árvores, Thomasin perde seu irmão de vista e tudo o que vê e ouve é o farfalhar do mato e, dentro em breve, o choro melancólico de sua mãe. Um processo de perdas e dores que se intensificarão ainda mais a cada dia, recaindo a culpa naquela que, bem no fim, é a mais pura entre todos.

Dirigido e escrito pelo estreante Robert Eggers a partir de vários escritos, relatos e lendas sobre bruxas e demais casos sobrenaturais da região da Nova Inglaterra nos Estados Unidos, “A Bruxa” não é um filme de se levar sustos, como o gênero de terror é vendido de uns tempos pra cá (se não a divulgação do próprio filme). Acontece que Eggers, premiado no Festival de Sundance em 2015 como Melhor Diretor, provoca uma perturbadora experiência, desde a trilha sonora (propositalmente) destoante de Mark Korven, com violoncelos guinchando em intensidade, à plasticidade das cenas envolvendo a revelação visceral da bruxa, o retrato ameaçador de animais comumente dóceis e toda a construção fotográfica utilizando luz natural e a tortuosidade da floresta. Aquele lugar, que parecia tão abençoado no início, agora é dificilmente tocado pela quente luz solar e, quanto mais a família se abraça em sua religião, mais parece que as forças malignas torturam física e mentalmente cada integrante da casa elevando ainda mais seus pecados (ou a sensação de estar pecando) por puro escárnio.
Mas o bom trabalho de Eggers não para por aí e o diretor consegue extrair ótimas performances de seu elenco. Enquanto Ralph Ineson, com seu timbre grave e pouco pausado que nos lembra da voz marcante de Alan Rickman, fazendo com que o pai da família seja um homem bruto, todavia condolente, e Kate Dickie traga novamente o protecionismo materno de sua Lysa Arryn de “Game Of Thrones“, aqui mais acentuado e delirante, é Anya Taylor-Joy que se destaca por mostrar o conflito de ser uma jovem em fase de transição para uma vida adulta de submissões, tentando ser pura até seu último suspiro – e é aí que pode ser uma questão de perspectiva.

Abraçando o sobrenatural em seu último ato, o filme tem um perfil bastante característico de um título voltado a festivais: a ousadia ao experimentar e abraçar linguagens não convencionais, o roteiro enxuto e a trajetória para sua protagonista alcançar o transcendental, embora cometa o equívoco de associar elementos satânicos com as religiões pagãs voltadas à natureza. Um fascinante trabalho de estreia, impecável em sua execução técnica, “A Bruxa” demonstra que, na eterna luta entre o Bem e o Mal, é possível haver inocência mesmo quando se está no meio de tais forças opostas e que, talvez, o excesso de religião seja tão prejudicial quanto aquilo que tanto tenta combater.